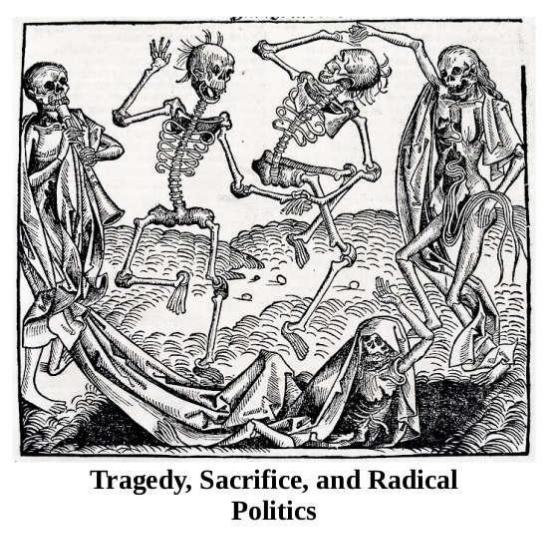Tragédia, Sacrifício e Política Radical
Autor: anônimo
Data: 01/05/2024
Fonte: Unravel
Nossas Mortes
Nossos amigos morrerão. Nós também. Nossas mortes são inevitáveis. No entanto, as perguntas sobre quando e como morreremos permanecem incertas.
Sileno, tutor de Dionísio, ensina que o melhor é morrer o mais cedo possível, já que já nascemos. Seguir seu ensinamento significaria que o suicídio imediato é o melhor caminho.
Camus, por outro lado, prega o oposto: viver o máximo de tempo possível, revoltando-se contra o absurdo da existência e buscando o maior número de experiências diversas. Um seguidor de Camus faria de tudo para continuar vivo, independentemente da qualidade dessa vida.
Entre Sileno e Camus, há infinitas variações sobre como e por quanto tempo viver. Algumas sugerem que devemos viver em função de nosso valor instrumental para os outros ou para uma abstração como a “sociedade”. Tanto capitalistas quanto alguns comunistas aderem a essa visão do humano como uma engrenagem: viva o máximo possível, desde que seja produtivo (para a máquina de lucro, para a revolução).
Outros propõem viver nos próprios termos. Stirner, o mais radical entre eles, não coloca nenhuma causa acima da sua própria. Se ele exige aventura e rebeldia por prazer, sua vida pode ser mais curta. Se busca tranquilidade e conforto, então uma vida obediente e longa seria o melhor caminho. Entusiastas de esportes radicais pertencem à primeira classe egoísta, dispostos a aceitar uma vida curta em troca de experiências que só podem ser alcançadas ao arriscar a morte. Salústio, o historiador romano, observou um fenômeno semelhante entre os primeiros soldados romanos: guerreiros cujo único desejo era a batalha gloriosa, com pouca ou nenhuma preocupação com suas mortes. Os abreks, foras-da-lei chechenos semelhantes ao Robin Hood, consideravam morrer em batalhas impossíveis como a maior honra. Cervantes explorou a dialética desses dois tipos de egoísmo, com Dom Quixote perseguindo uma vida egoísta de aventura (disfarçada de idealismo delirante) e Sancho Pança uma vida egoísta de autopreservação.
Uma visão alternativa sobre quando e como morrer é apresentada por Thoreau ao comentar sobre a invasão de John Brown a Harper’s Ferry: cada um de nós tem uma tarefa, um objetivo ou uma obra de vida. Se sabemos como começar essa tarefa, também saberemos quando nossa vida deve terminar. Thoreau argumenta que, para Brown, ele sabia que seu trabalho e sua vida terminariam com um ataque final e uma tentativa de insurreição liderada por pessoas negras escravizadas. Nietzsche propõe uma ideia semelhante: que a tarefa de vida de uma pessoa a consome, e, como um rio que transborda, o ser humano livre destrói seus próprios limites e, finalmente, a si mesmo em busca de desafios à sua vontade. Ele cita Júlio César e Napoleão Bonaparte como exemplos de gênios explosivos que só podiam ser libertados através da constante experiência de desafio e resistência. Nat Turner, um prodígio religioso possuído por visões reveladoras de libertação da escravidão, percebeu que sua missão messiânica consumiria sua vida até o fim. O dinamite se define, em parte, pelo que destrói – inclusive a si mesmo.
Por fim, temos os mártires intencionais, que escolhem morrer porque essa morte prova a devoção a uma causa maior. Jesus é o exemplo por excelência.
Sacrifício e Instrumentalismo
Por que essas visões importam? Porque o risco e o sacrifício resultante não são apenas sintomas de ver a si mesmo como um instrumento de uma causa ou propósito maior, como o dever para com a sociedade ou as classes oprimidas. Em vez disso, o sacrifício pode ser um sintoma de capacidades mais amplas para a vida; esses sacrifícios são tragédias que recaem sobre aqueles que são grandes demais, expansivos demais, ousados demais e explosivos demais para sua época.
Como a tragédia e o sacrifício são relevantes para os radicais do nosso tempo? Dado que há tantas visões alternativas que implicam algo semelhante ao sacrifício, é um erro enxergar todo sacrifício como imediatamente alinhado a um ethos instrumentalista, de entregar a vida a uma máquina. Militância não significa enxergar a si mesmo como uma engrenagem. Por outro lado, algumas abordagens que parecem abraçar a vida e o poder, que parecem opostas ao desejo de morte, são, na verdade, tentativas sectárias de instrumentalização: viver mais para produzir mais ou contribuir mais para a revolução. Seitas entendem isso muito bem: encontram pessoas que não têm mais nada, que estão prontas para a morte, e oferecem algo pelo que viver (a seita). Tornar-se um instrumento obediente do grupo se torna o propósito de quem estava sem propósito.
Tomemos um exemplo: ações de massa que exigem a participação de um grande número de pessoas, iniciadas e coordenadas por um pequeno número de atores. Nos últimos anos, vimos no movimento Stop Cop City que, repetidamente, grandes ações de massa tendem a resultar em mais prisões e menos danos do que ataques clandestinos realizados por pequenos grupos. Analisar as acusações baseadas na RICO e entender como as pessoas foram presas é revelador: ninguém foi capturado durante ou após um ataque clandestino. Apenas uma pessoa, fora do caso RICO, foi presa após um suposto ataque na Carolina do Sul. Sabemos que os ataques estão acontecendo, mas quase não há prisões.
Minha primeira suposição sobre o motivo dessas ações de massa, quando os ataques clandestinos de pequenos grupos são tão eficazes, é que as ações de massa são propagandas. Mas, como qualquer publicitário sabe, sua mensagem ressoa com um segmento específico do mercado: a ação de massa ressoa com pessoas que aceitam que outros deem as ordens. Dado o risco e a eficácia, é difícil enxergar outro motivo para essas ações ainda serem propostas. Por que isso acontece? Porque os organizadores dessas ações têm tanto medo de agir por conta própria, sem as massas de corpos para absorverem as prisões, quanto a crença de que mais pessoas, obedientes, são o que sua nascente máquina militar aspirante precisa. Assim, esses egoístas instrumentalizam os outros como seus soldados, esperando treinar tropas tão corajosas quanto os romanos. Essa é a visão de Mel Gibson: uma vida de produzir, dirigir e atuar em seu próprio filme de guerra revolucionário, com a maior parte do risco diluído para o restante de nós, os figurantes. Qualquer rejeição à ação de massa é rotulada como uma atitude derrotista e militante autossacrificante, algo que só poderia vir de alguém com medo de abraçar o verdadeiro poder (neste caso, o poder de uma máquina de guerra hierárquica disfarçada de radicalismo, como conselhos porta-vozes e black blocs).
Mas isso é um diagnóstico errado. Pequenos grupos de afinidade que causam grandes danos sem serem pegos são muito mais semelhantes a um alpinista experiente e alegre do que a um Jesus autonegador: eles assumem riscos porque é um desafio, uma tarefa de vida, algo que os consome. Eles têm boa ofensiva e boa defensiva, e não jogam seus camaradas nas mãos da polícia, tomando todas as precauções, assim como um alpinista segue seu checklist básico. Qualquer espetáculo associado a essas ações recruta um tipo específico de pessoa que deseja lutar com estratégia e táticas autogeradas e cuidadosas, em oposição à obediência e deferência a um líder destemido.
Martírio e Militância Triste
Além do sacrifício egoísta ou Thoreau-Nietzscheano, também quero questionar a tendência de condenar o martírio como uma forma de militância triste. Embora eu seja contra a cultura do martírio (pessoas sendo preparadas e pressionadas a se sacrificarem) e a cultura guerreira (a expectativa social ou exigência de sacrifício em batalha), também não sou a favor de destruir as paixões dos meus amigos. Como Nietzsche argumentou, onde há grande genialidade e paixão, há uma explosão; o dinamite é consumido. Desarmar essa bomba é transformar um amigo — mas em quê? De um herói valente que morre uma morte corajosa para um covarde que se arrepende de milhares de pequenas mortes? Tornar Jesus, John Brown ou Nat Turner algo diferente de mártires seria privá-los de seu caráter quase divino, uma vontade que nenhum outro humano possui, um desprezo inflexível pela morte e uma devoção apaixonada à causa. Isso seria como transformar todo Dom Quixote em Sancho Pança.
Compreensão e Experimentação
O que eu desejo é compreensão: que meus camaradas entendam que talvez não saibam como criar alegria em suas vidas, e por isso o sacrifício parece a única opção. Já vi a militância triste, um (dentre muitos) tipo de militância sacrificial. Claro que sou contra isso, porque sou contra servir qualquer causa sagrada que não seja do meu próprio interesse, como trabalhar para sustentar uma ética protestante ou permanecer em um casamento porque “é o certo a fazer”.
O que quero ver em meus amigos? Experimentação. Para mim, esta é a essência da anarquia: brincar com as relações sociais, testar formas de viver, tanto grandes quanto pequenas. Indivíduos que encontram poder no trabalho solitário, fazendo coisas que só um “lobo solitário” pode fazer, mas que também estejam dispostos a tentar colaborar com outros. Pequenos grupos trabalhando de forma independente ou em colaboração por afinidade, criando suas próprias formas de coordenação. Em vez dos já desgastados conselhos porta-vozes, que giram em torno de delegação, representação, burocracia e compromisso, buscar afinidade com complementaridades, onde grupos se reúnem para criar modos de ação que só são possíveis por meio de seus indivíduos únicos. Sou contra o compromisso ou a tentativa de unir massas de pessoas que discordam, mas seguem o conselho organizador pelo bem da causa. Isso é militância triste, que só surge da ignorância sobre a alegria da verdadeira colaboração descentralizada e autônoma (o que Stirner chamou de união de egoístas).
Também quero que aqueles que organizam ações de massa sejam honestos consigo mesmos e com os outros: que estão performando, anunciando, engajados no espetáculo, na esperança de atrair um tipo específico de pessoa crédula para suas fileiras hierárquicas quase militares. E que saibam — e admitam plenamente — que os mesmos objetivos poderiam ser alcançados sem, ou com muito pouco, sacrifício humano.
Quero que os mártires saibam que são amados e que sempre há outro caminho, mas não os impediremos ou os denegriremos chamando-os de tolos ou militantes tristes.
E quero que os militantes tristes saibam que há alegria possível e que não precisam se submeter a uma causa que exige o sacrifício de suas vidas por culpa ou vergonha.
Minha Estratégia
Minha estratégia revolucionária é ter uma vida foda. Isso pode parecer loucura para algumas pessoas, fazer coisas que podem me matar ou me levar à prisão. Mas alguém questiona o alpinista que desafia toda a sua existência ao escalar sozinho? Essa pessoa não age por obrigação a uma causa (a causa de todos os alpinistas?). Ela faz isso porque precisa de desafio e resistência; precisa ultrapassar seus limites; precisa da centelha de vida que só ocorre na beira da morte; da liberdade que só existe diante da tirania. Essa estratégia de vida é multidimensional. Não é apenas militância. Não é apenas esforço. É um fluxo de desejos que muda e se adapta às circunstâncias. Isso é o que desejo para mim e para os outros.
No entanto, sei que outros são diferentes de mim, então não posso escrever uma prescrição para eles. Eu costumava pensar que o meu caminho era o certo e atacava sem piedade o que considerava errado por causa das consequências graves que percebia ao tomar a decisão errada. Como evitar que uma criança atravesse uma rua movimentada, nenhum argumento ou ação parecia forte demais. Como na “Colônia Penal” de Kafka, eu queria inscrever o ser correto no corpo do leitor, para o bem dele. Agora, só espero compartilhar o que sinto e que outros possam tirar algo disso, aceitando que autonomia significa que, às vezes, haverá tragédias que pareceriam evitáveis.
Um Princípio Final
No entanto, há um princípio que não sacrificarei: sempre me certifico de que meus camaradas possam lidar com o pior cenário de suas ações quando agimos juntos, e, se não puderem, argumento que não deveriam fazê-lo.